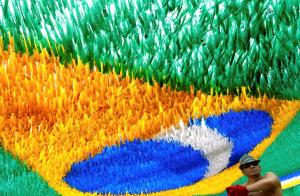
“Subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos” – Nelson Rodrigues.
Imagine um Brasil governado por um presidente que conseguiu debelar uma hiperinflação, promoveu o equilíbrio nas contas públicas, um amplo projeto de privatizações e renegociou a dívida externa, garantindo estabilidade ao país.
Seu sucessor então recebe o país com as contas em dia. Reformas feitas, e por uma sorte do destino, vê o mundo inteiro passar por um boom de demanda por produtos exportados pelo Brasil. Com dinheiro entrando, ele promove grandes obras e garante uma sensação de crescimento e modernização do país.
Sim, eu sei que este exemplo não é tão hipotético e você certamente se lembra dele. Afinal, esse é o Brasil da virada do século, ou mais precisamente, o Brasil do começo do século 20.
Algumas décadas mais tarde, os dois presidentes, Campos Salles e Rodrigues Alves, serviriam de inspiração para Oswaldo Aranha cunhar o termo “pêndulo Campos Salles-Rodrigues Alves”.
Aranha, então secretário de Vargas, definia a ideia da seguinte maneira: um governo deve iniciar fazendo todas as reformas e ajustes que sejam impopulares na primeira metade do seu mandato, e então concluir o mandato usufruindo dos benefícios desses ajustes para garantir a eleição.
Do Oiapoque ao Chuí, essa é uma tática manjada, utilizada por 10 em cada 10 políticos tradicionais que baseiam suas ações no calendário eleitoral.
Ao longo da nossa história, não foram poucas as vezes em que optamos por seguir nesta direção. O resultado, como a frase do Nelson Rodrigues bem resume lá em cima, foram séculos de planejamento mal feito, e uma completa ausência de projetos de país.
Como os jornalistas Ribamar Oliveira e Cláudia Safatle relatam em seu livro “Anatomia de um Desastre”, o então presidente Lula, que começou seu governo promovendo reformas extremamente importantes e pouco populares (como a reforma da previdência para funcionários públicos), chegou a 2005 com sérias dúvidas sobre a efetividade deste tal ajuste que seus ministros e secretários tocavam.
Lula estava especialmente incomodado com o arrocho de Henrique Meirelles no Banco Central, que impunha juros altos para conter a inflação, mas também travava o crescimento, dado o custo de se captar recursos e investir.
Foi por essa época, que a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff ganhou espaço no governo. Lula sacou os tais reformistas e decidiu dali em diante ser mais “Rodrigues Alves”, focando no crescimento.
Seus dois primeiros anos foram de extrema importância para o país. Aprovamos ali além da já citada reforma da previdência, um programa de transferência de renda mais eficaz que qualquer outro já criado até então, o Bolsa Família, além de reformas microeconômicas que aumentaram as garantias em empréstimos e facilitaram um boom imobiliário.
Nada disso porém convenceu o ex-presidente a seguir o receituário e aguardar os resultados aparecerem. Havia pressa, e como o ditado popular já avisa, a pressa não é a melhor conselheira.
Dali em diante, conquistado um segundo mandato, Lula ainda foi “presenteado” com uma dádiva duvidosa. Os países ricos entraram em crise. Ponto perfeito para mudanças mais radicais: afinal, se os países ricos estão na sua maior crise em oito décadas, quem eles pensam que são para nos ensinar como gerir nossa economia?
Por esse caminho, e em função de uma carta branca, avançamos em direção a um novo projeto, desta vez, muito além de Rodrigues Alves e seu “PAC”.
O investimento público cresceu e o famoso PSI (para os íntimos), nasceu. Para os não tão íntimos, PSI é o Programa de Sustentação do Investimento, um projeto que injetou mais de R$ 520 bilhões no BNDES para financiar empresas.
Estima-se que, ao todo, o BNDES tenha distribuído em recursos algo em torno de R$ 1,6 trilhão, sendo 70% disso para grandes empresas.
A maré de investimentos públicos foi absurda. De jatinhos da Embraer a rodovias em Angola, passando pelo metrô na Venezuela e o sopro que gerou a bolha dos caminhões, tudo passou a ser assunto de Estado, e financiado indiretamente por impostos.
No auge, o governo chegou a ser responsável por determinar 65% do crédito da economia, ou em outras palavras, de cada R$ 100 emprestados no país, R$ 65 saiam de bancos públicos.
O problema, porém, além de questões éticas, é o que os economistas chamam de “crowding-out”: na medida em que o Estado entra em um setor, como o caso do crédito, o setor privado tende a se retirar.
A conta não termina por aí. Em um breve período de cinco anos, o governo deu R$ 538 bilhões em isenções de impostos para empresários que quisessem contratar. Como mostrou um estudo posterior feito pelo Insper, nenhum emprego a mais foi gerado.
Outros R$ 120 bilhões em prejuízo foram criados para agradar as grandes indústrias com uma gambiarra no setor elétrico, e mais de R$ 100 bilhões assumidos em prejuízo pela Petrobrás para subsidiar combustíveis (provavelmente uma das ideias mais ambientalmente desastrosas do século).
Mas afinal, se o governo deu dinheiro com juros zero, reduziu impostos, reduziu custos com energia e transporte, por que os empresários não atenderam ao chamado e investiram mais?
A resposta para essa questão pode estar em outra guinada tomada também em 2008. Foi por essa época que o Brasil descobriu o pré-sal, um recurso estratégico para o país nos dias de hoje.
Nessa época, porém, a decisão inicial do governo foi a de anular o modelo regulatório que estava sendo utilizado há mais de uma década e criar um novo marco legal para concessões de campos de petróleo.
Na teoria, isso elevaria os ganhos do governo com o petróleo extraído por lá e inundaria o país com recursos para financiar saúde e educação.
Na prática, porém, o país ficou entre 2008 e 2013 sem fazer nenhum leilão. Deixamos de arrecadar dezenas ou centenas de bilhões em impostos e investimentos.
Durante este período, o barril de petróleo esteve no seu ápice, chegando a US$ 160 (contra menos de US$ 50 hoje), o que poderia ter gerado alguns milhões de empregos para o país e garantido um aumento da arrecadação para programas sociais e outros gastos públicos.
O erro nesse caso foi algo que ocorre com uma frequência bastante elevada no país: mudar as regras do jogo e criar insegurança jurídica.
Seja no custo dos nossos juros ou na remuneração dos investimentos, a previsibilidade é fundamental.
Mudamos também as regras de concessões de rodovias, permitindo que aqueles que oferecessem menores preços ganhassem. Parece ótimo, certo? Nem tanto, como mostram os pedidos de falência das concessionárias e a incapacidade de administrar e investir com preços tão baixos.
Concedemos também aeroportos, pelos quais a Odebrecht chegou a pagar R$ 20 bilhões!
Poucos anos depois, descobriu-se que as projeções eram irreais, e que os contratos precisariam ser reajustados.
Planejar o horizonte sem depender da boa vontade ou do humor de um político tem sido o maior desafio para qualquer investimento no Brasil. Como se costuma brincar na bolsa, tão importante quanto saber o balanço de uma empresa de energia, é saber o que pensa o ministro da área, e assim por diante.
O mais grave, entretanto, é que muito antes de essa política acender um sinal amarelo e mostrar um claro desgaste (em fevereiro de 2014, o ex-ministro Guido Mantega já alertava para necessidade de um ajuste), nós terminamos por desperdiçar os anos de bonança sem nos comprometermos com qualquer ajuste de longo prazo.
É bem verdade que, em 2013, fizemos uma tímida reforma da previdência, criando capitalização para o funcionalismo. Mas tivemos de esperar a crise chegar para que a reforma da previdência como um todo entrasse em pauta, em 2015, durante o governo Dilma.
Atrasamos ajustes e empurramos com a barriga por questões eleitorais. Como bem lembra Nelson Rodrigues, isso ocorre há alguns séculos, e está ocorrendo neste exato momento, quando uma reforma administrativa, crucial para o país nos próximos anos, está sendo engavetada porque pode “atrapalhar a reeleição”.
Neste período também, quando mais dinheiro parecia resolver tudo, passamos ao largo de solucionar nosso problema de produtividade.
Nossos trabalhadores produzem quatro vezes menos que um americano. Há 40 anos, o número era exatamente igual. Na prática, isso significa dizer que ficamos estagnados, quando deveríamos estar alcançando os países ricos.
Chegamos a 2020 com a expectativa de que o PIB caia a níveis de 2010. Esse, infelizmente, não é um eufemismo. Se chegarmos a uma queda de “apenas” 4% no ano, um número otimista, terminaremos a década com um crescimento total de 1,9%.
Isso significa dizer que, em média, cada brasileiro ficou 0,6% mais pobre todos os anos da década.
Para os próximos dez anos, a expectativa é de que a população brasileira cresça mais lentamente, o que, por sua vez, irá acarretar em um crescimento menor da economia. Afinal, serão menos trabalhadores produzindo.
A solução desse impasse não chega a ser uma novidade. O país precisa, sob qualquer aspecto, encontrar um cenário de consenso para gerar estabilidade aos investidores.
Com as contas em ruínas e uma população que está envelhecendo, o governo não poderá se dar ao luxo de impulsionar o crescimento por meio de gastos, tendo de se reorganizar para atender as demandas crescentes em áreas como saúde.
Como a segunda metade dessa década mostrou, o cenário não é nada fácil. Mesmo com reformas, o país ainda segue instável politicamente, o que atrapalha seu crescimento.
No caso atual, seguimos instáveis politicamente e sem reformas.
Por sorte, sabemos que em outros tantos momentos da economia brasileira, enfrentamos desafios tão avassaladores quanto, como a maior hiperinflação do Ocidente, e saímos melhores do caos.
A grande questão é se iremos enfim sair deste pêndulo no qual tudo gira em torno das eleições a cada quatro anos.
Se você gostou do artigo ou tem alguma crítica a fazer, pode me encontrar pelo Twitter e pelo Instagram
The post O Brasil segue sem perder a oportunidade de perder uma oportunidade appeared first on InfoMoney.





